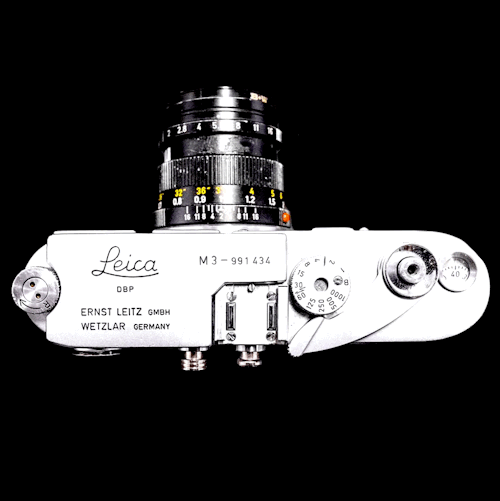Estive fora de casa. A passear, pois viajar implica mais curiosidade e menos logística de carrinho de bebé e mochila cheia de fraldas.
O passeio consistiu em dois bilhetes e meio (o Xavier com dois anos ainda não pagou) de ida e volta a Coimbra desde a Figueira da Foz. Por outras palavras, duas horas e meia do nosso dia a andar de comboio.
Valeu a pena metermo-nos neste regional e parar em todos os apeadeiros que confundiam os meus filhos e promoviam um inquérito constante: «já chegámos?»; «é aqui?» ou «isto é Coimbra?».
Chegámos, estivemos lá e viram um bocadinho do centro de cidade. Enquanto cumpri com os meus deveres familiares, não pude deixar de pensar como gostaria de ter cumprimentado o Adolfo Rocha, de como o seu olhar de poeta se projectava desde a janela do seu consultório em direcção ao Mondego e a sua alma atingia uma dimensão peninsular por devoção literária a Cervantes e a Unamuno. Porém, a sua maior devoção sempre me pareceu ser à integridade do seu ser, essa herança telúrica de S. Martinho da Anta. Consolei-me com uma rápida visita à placa em forma de mão, na Praça da Portagem, e a uma referência rápida à sua pessoa, ao seu pseudónimo, e explicar ao meu filho mais velho, também ele um amante de «Bichos», que ali viveu uma das maiores referências que a literatura me deu.
O turismo das massas traz um certo glamour, mas não oculta muita da degradação que se vai vendo a pedir esmola na cidade do Mondego. A última vez que a visitei, pensei o mesmo. Pena que este sentimento me acompanha em muitos dos centros históricos que vou visitando por esse Portugal fora. É curioso ver, desde uma rua comercial do centro da cidade, a imponência do centro comercial massivo apenas separados pelo rio. Os outroras centros comerciais no interior das urbes, têm sido deslocados para locais que emulam outras sociedades de consumo, como a norte-americana, e com possibilidade de estacionamento, já se assumem como nossas. Os centros históricos acabam entregues a turistas e à miséria à procura das migalhas dos negócios da China.
Regressámos da mesma maneira como fomos, de comboio. Vimos o maquinista, falámos com o revisor, usámos vocabulário do passado da nossa família, da via férrea, essa à qual penso que escapei.
Chegados à Figueira da Foz, terminámos o dia entre livros, numa Feira do Livro bastante bem programada e munida de exemplares. Por pouquíssimo tempo não assisti à apresentação do Francisco Moita Flores. Tive pena. Foi dos primeiros autores a quem prestei atenção em miúdo. Foi à Industrial e graças a ele prestei atenção a um lado oculto do Estado Novo e que o escritor não era propriamente um tipo académico como os dos livros de texto escolares.
Gastei pouco dinheiro. Primeiro, porque não posso malgastar (não é que investir em livros seja por mim considerado um mau investimento), ao viver em família temos de priorizar. Segundo, porque, apesar de ter o sonho de ter uma biblioteca organizada na courela, me custa saber que vou acumular, que pouco vão circular e que um livro numa estante é um bocado de egoísmo da minha partes. (No entanto, fico bastante chateado quando necessito consultar a página tal e não tenho o livro perto ou anda em mãos desrespeitadoras com a bibliografia alheia. Às vezes, fico mesmo fodido e perco a vontade de partilhar. Esse é o motivo porque não empresto livros a qualquer um.).
Bom, e para não me esquecer, escrevo-o como se fosse para dizê-lo em voz alta. No saco trago Manuel António Pina (para o Pedro -se leres esta entrada já sabes!-), Egito Gonçalves e a sua «Ferida Amável», e Xosé Lois (o apelido não me lembro), um galego lusofilo com um livro de poemas inspirado pelos azulejos da estação de caminho-de-ferro de Caminha. Onde abri os cordões à bolsa foi numa grande livraria em Coimbra. Voltei a encontrar-me com Paul Celan através da sua ensaística em «O Meridiano e outros textos», creio que reeditado, há menos de um mês. Pequeno, mas já bastante sublinhado, a aguardar algum tempo para poder esmiuçá-lo, pois, estes dias, os meus putos não mo permitem como gosto.
A nota diária já vai longa. O dia também o foi. Na feira do livro, vejo que há muita oferta, que quem lê não tem preconceitos, compra de acordo com o mercado, com o acesso da distribuição livreira. A crítica continua a funcionar com a relatividade que a actividade implica e a academia está mais preocupada com os livros do passado, com os livros de texto, e com artigos de pontos científicos, que com novos horizontes artísticos.
Com uma feira do livro numa praia bastante movimentada e numa época em que nunca antes se leu tanto, porque é que saí de lá com conversa de cu fodido? (Isto é, a queixar-me.).
Disse à minha mulher, «O sublime está cada vez mais barato e ninguém lhe pega. Há poesia, narrativas e ensaios ao preço de um euro e pouca gente os compra. Há magotes de editoras falidas a venderem obras e autores a peso, pois é melhor facturar-se qualquer coisa que nada. E as novas colecções? Os catálogos rebuscados, sofisticados, de editoras tão selectivas que acabam por perder a oportunidade de possibilitar o seu grande objectivo, ler. Reconheço, contra mim mesmo, que o hermetismo de Celan não é para qualquer sensibilidade, contudo não posso deixar de acreditar que, com vontade, todos somos capazes de ter capital de evoluir ou retroceder nas nossas leituras. Não entro por binómios de qualidade/quantidade, sim por liberdade. O mercado editorial português (e, atrevo-me a dizer, europeu ou mesmo mundial) é refém dos grandes grupos económicos detentores da publicação, da distribuição e, até mesmo, dos espaços físicos em loja ou destas típicas feiras do livro de Verão.
O autor, no fundo quem nos leva a ler, o motor do acto de criação, é o último elo da cadeia e, se quer publicar em formatos ditos «dignos» para o público, tem de fazer parte da corrente. Entendo a dinâmica, mas custar-me-ia fazer parte da engrenagem porque, como o poeta que desejava alguma vez ter cumprimentado, tenho ao meu lado uma pessoa, a minha mulher e isso faz-me estar fora do mercado convencional, esse mercado que promove títulos e temas tão interessantes como «o que fazer para ter sexo e os vossos filhos não ouvirem». Ainda não li porque é um assunto silencioso, íntimo, nada elegante, sobre o qual é preciso talento e mercado para se escrever. Não duvido do talento destes autores com prefácios «fofinhos», fico contente com a informalidade e o humor que vai proliferando por campos literários. Rir é de deuses, mas, no acesso globalizado, fácil, a criação está cada vez mais próxima da medida humana que de Deus.
Se calhar isso até é bom, se não jamais escreveria...